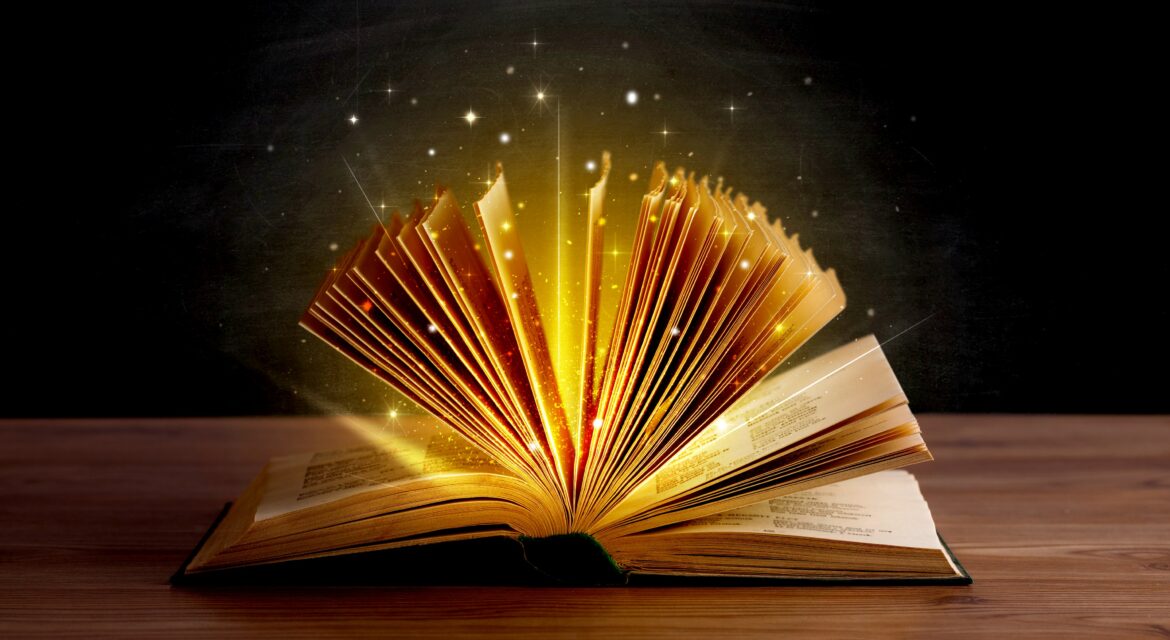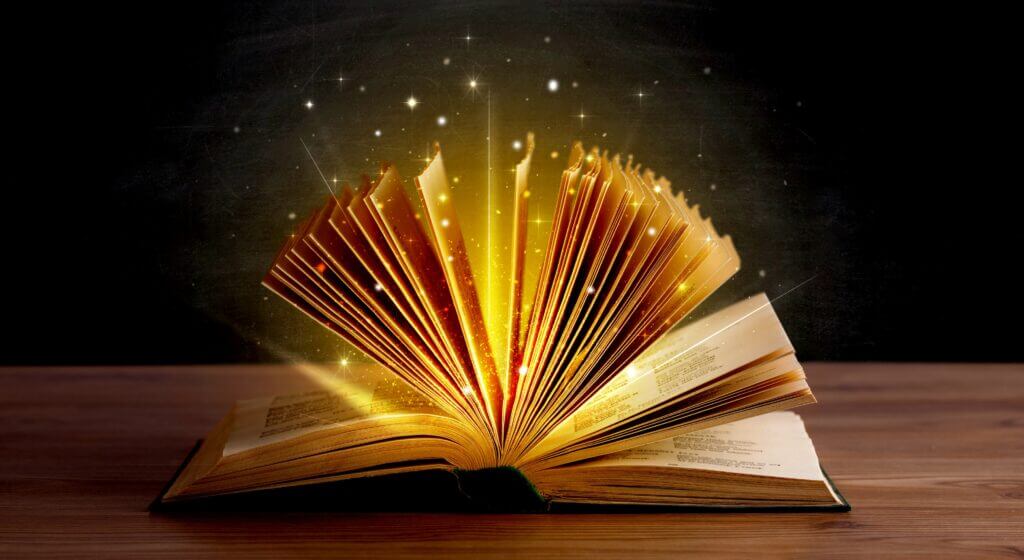Quando eu era criança, como muitas das crianças abandonadas pelo Estado neste país, eu catava latas. Ou melhor, meus irmãos mais novos catavam latas, e eu cuidava das latas. As latas não eram como as de hoje, desse alumínio que se dobra ao movimento da mão e que a gente amassa como se fosse uma folha de papel. As latas que existiam à época eram basicamente latas de óleo de soja, arredondadas e de um latão bem resistente. Eles catavam as latas pelas ruas e traziam para o nosso quintal de terra. Despejavam o saco num canto e voltavam para a rua para continuar a busca. As latas eram bastante disputadas. Minha função, que chamei pra mim sem que ninguém me impusesse, era lavar e organizar as latas antes de vender. Em algum momento, eu intuí que para que tivessem mais valor, as latas deveriam estar limpas e ter, digamos, uma estética diferente. Então inventei de abrir as duas laterais para dessa forma poder amassar as latas e deixá-las retas, como pequenas placas de alumínio. Mas a grande revelação que essa ideia me traria, eu não podia prever. Descobri que, a despeito do aspecto carcomido e enferrujado que pudessem ter por fora, as latas, por dentro, eram sempre brilhantes, luminosas, lisas, reluzentes. E prateadas! Aquilo equivaleu a uma epifania pra mim. A beleza do alumínio reluzindo dentro de uma lata enferrujada virou uma espécie de síntese existencial. De modo que era com alegria que eu fazia aquele trabalho duríssimo de abrir as latas e depois amassá-la com uma pedra, deixar o mais reta possível, e amarrar com um barbante em montinhos de 10. O senhorzinho que comprava latas dava preferência para as nossas e pagava quase sempre uns centavos a mais pelo meu capricho. Com o dinheirinho que ganhávamos, era possível comprar umas balas na venda da Dona Hermínia ou um geladinho de goiaba ou de coco queimado nos dias de sol escaldante na barraquinha da Dona Lindaura, “luxos” que a gente não podia ter se não ralasse muito de sol a sol de chuva a chuva. Catando latas. Mesmo sendo crianças. Muito pequenas.
Hoje eu sou dona de uma editora. A rigor, faço livros. Mas inventei de agregar algo além dos livros nas pré-vendas que ando fazendo na Nós. Mando um mimo para quem compra o livro antes de estar pronto. É uma forma de as pessoas me ajudarem a viabilizar financeiramente o projeto do livro – que é sempre caríssimo para quem não tem herança e nem um banco como investidor -, e em contrapartida, receber algo exclusivo. Isso começou de forma despretensiosa. Mandei fazer um saquinho de tecido para envolver o primeiro livro que fiz da Woolf. Para minha surpresa, as pessoas enlouqueceram. Eu ia fazer apenas 100 unidades. Mas logo tive que aumentar para 200. Depois, para 300. Porque todo mundo queria! Desde então, decidi que os livros da Woolf, o meu Projeto Dalloway, eu faria assim, em pré-venda, com “mimos”, e que eu pessoalmente cuidaria de tudo. Então para o Diário, resolvi fazer além do marcador e do saquinho de tecido um postal. Mas depois pensei que gostaria de embalar de um jeito diferente também e comprei umas caixinhas de papel kraf. Mas eu precisava fechar a caixa com a mesma delicadeza. Então fiz um adesivo. E por fim descobri um lugar que fazia papel de seda, e decidi imprimir um papel de seda escrito WOOLF. Em dourado! O Paulo Werneck me disse outro dia: Você não existe, Simone. Você mandou fazer um papel de seda pra Woolf. Eu fiquei chocado. Não foi só ele. Recebi um áudio maravilhoso da Nélida Piñon dizendo que ia guardar aquele papel de seda “como uma relíquia”. E que ela estava emocionadíssima ao ver como “uma moça do Brasil estava criando beleza como se fosse uma das irmãs Leslies de Bloomsbury e tratando a obra da Virginia com tanto amor”. Chorei de emoção com a comparação da Nélida, é claro. E esta é apenas uma ínfima parte das maravilhas que ela me disse, as quais nem sei se realmente mereço.
Vou lançar agora uma série de pequenos ensaios da Woolf. Já contei tudo aqui. De como me veio a ideia… E até contei como comecei a chamar “intimamente” a coleção de “diminuta”, uma palavra que a Woolf usa no primeiro livrinho da série para se referir à mariposa-personagem, e que significa “algo muito pequeno, parco, pouco, escasso, frágil”. A palavra não está na edição do livro. Eu usei apenas “intimamente”, mas na hora de cadastrar no site, o meu filho me perguntou: Mãe, com que nome cadastro o produto? Eu disse: Coloca Coleção Diminuta. E fiz um post no Facebook, esvoaçante de alegria. Logo em seguida, recebi um comentário de uma pessoa importantíssima do mercado editorial, a Maria Emilia Bender, dizendo: Simone, legal a sua ideia, mas já existe uma coleção com esse nome e é da Ayné. Eu disse que não sabia, agradeci o alerta e falei que ia ver isso. Mandei então uma mensagem para o escritório que cuida dessas questões jurídicas-editoriais pra Nós. Me tranquilizaram dizendo que não era um problema porque se tratava de uma palavra genérica e que não havia nenhuma marca registrada com essa palavra, e eu nem estava usando no livro, apenas mencionando na divulgação. Fiquei tranquila. Mas no dia seguinte o editor da Ayné me escreveu logo cedo, num tom passivo agressivo, dizendo que não acreditava que eu tivesse “batizado” a minha coleção com um nome de uma coleção que ele já tinha lançado no ano passado e dizendo que achava “muito pouco elegante da minha parte”. Eu expliquei tudo de novo: que não sabia, que não era marca, que não estava nem impresso no livro, que era só um jeito de chamar intimamente. Então, como resposta, ele me mandou o link do cadastro do produto no site onde aparecia a tag “Coleção Diminuta”. Eu expliquei de novo e disse: Eu vou mudar o nome onde aparece. Mas acho isso uma loucura. Ninguém é dono da palavra. É uma palavra que a Woolf usa no primeiro livro da série. E não é uma marca registrada por vocês. Ele respondeu: Não é uma questão de propriedade, mas de elegância. Fiquei desolada com a agressividade. Enquanto isso, um poeta amigo meu, o Tarso de Melo, viu o comentário no Facebook e escreveu: Que pena, Simone, mas então podia chamar Coleção Mariposa. Escrevi pra ele agradecendo a delicadeza. E ele disse: Vai dar ainda mais sorte, porque a Woolf adorava mariposas! Olha o que achei. E me mandou um artigo lindíssimo em inglês sobre a imagem das mariposas na obra da Woolf. Entre outras belezas, está escrito assim:
“A mariposa é uma escritora criativa e imaginativa, enquanto o caçador de mariposas ‘captura’ e mata o processo.”
É muito difícil existir e se mover num mundo onde tudo já tem dono, sabe? Até as palavras. Eu me senti como uma mariposa, inconsciente do perigo que corre quando entra num campo dominado pelos grandes predadores. Mas eu não sou exatamente uma das “irmãs Leslies”. Eu sou uma das irmãs daqueles garotos que catavam latas na infância comigo. O mais velho é hoje gerente numa das maiores gráficas do país. O mais novo virou produtor gráfico, trabalha numa super agência publicitária e é ele quem “fabrica” todos os mimos da Nós que o Bloco Gráfico desenha: porta-livros, botons, papelaria, tudo. Nós três saímos do nada. Mas é do nada mesmo. Menos que o diminuto! E com muito trabalho e dignidade chegamos até aqui sem NUNCA tirar nada de ninguém! Nem uma bala. Nem uma palavra.
Fiquei pensando muito nisso.
Eu sei muito bem quem eu sou.
Eu sei muito bem de onde eu vim.
Eu sei muito bem o meu tamanho.
Mas o mundo não tem dono!
As palavras também não!
As palavras, como as latas enferrujadas, são de quem precisa delas. As palavras às vezes estão lá, mortas, em estado de dicionário, como dizia o Drummond. E se alguém as tira de lá, espana o pó (ou a ferrugem) que se depositou sobre elas, e recupera o brilho reluzente que elas têm por dentro, não pode estar fazendo nenhum mal pro mundo.
Deselegante (e obsceno) pra mim é perpetuar a desigualdade com pequenos e grandes gestos de opressão.